Lembranças de uma antiga relação, iniciada por fax e terminada em Porcelain
Por Carlos Albuquerque*

Cidade de Nova York, 1989 (Foto: Julie Hermelin)
Avistei Moby pela primeira vez em 1995. Era uma época de navegações rudimentares. Tanto era que conversamos por fax — sugestão do próprio artista, para que não precisasse ouvir sua “voz irritante” — numa entrevista para o “Rio Fanzine”, publicado no Segundo Caderno, do jornal O Globo. Naquela época — quando os Mamonas Assassinas estouravam em todo o Brasil e o ex-jogador de futebol americano O. J. Simpson era absolvido da acusação de assassinato da ex-mulher e de um amigo, após um célebre julgamento —, Moby era visto por nós, eu e Tom Leão, que editávamos a seção, como uma espécie de ponta de lança do som eletrônico, aquele que, vindo dos subterrâneos, iria se apossar da rebeldia associada ao rock e transformar o mundo. Esquecemos, claro, de avisar ao mainstream, mas isso foi outra história.
Era o tempo de Everything Is Wrong — um álbum grandioso, eufórico, libertário —, e Moby revelou-se um entrevistado divertido e sagaz, mesmo num papo engessado como aquele. Elogiou Kate Bush, confirmou sua paixão pelo seriado Twin Peaks (cujo tema foi incluído no seu primeiro hit, “Go”, de 1990) e ironizou Eric Clapton (“Não confio em homens que tocam guitarra e usam ternos Armani com uma camiseta”).
A segunda visão foi mais perto, em 1996, num dos grandes templos da música, o mitológico teatro Fillmore, em San Francisco, que recebe o público com uma cesta de maçãs frescas, resquício do passado hippie da cidade californiana. Era a turnê do desafiador álbum Animal Rights, considerado um suicídio comercial, já que deixava para trás o som digital e abraçava a estética punk rock. No palco, Moby — parente distante do escritor Herman Melville, autor do clássico Moby Dick — brilhou mais do que os majestosos candelabros que decoram o local, com uma apresentação explosiva. Para usar uma expressão ancestral, foi o bicho.
A terceira e derradeira aparição foi a mais próxima, um contato imediato nos bastidores do V Festival, em Chelmsford, Inglaterra, no ano 2000. Por conta do crescente sucesso do álbum Play, lançado no ano anterior, e que venderia mais de 10 milhões de cópias, Moby era um dos destaques do evento, ao lado de Paul Weller, Richard Ashcroft, Supergrass e Leftfield. Encontrei-o tomando sol, em pé, perto de uma das mesas da área de alimentação dos artistas. Com o auxílio poderoso de uma Guinness, afoguei a timidez, fui até ele e me apresentei. Apertamos as mãos, falamos algumas coisas irrelevantes sobre o festival e ele perguntou sobre a blusa que eu estava usando. Quando disse que era de uma banda de hardcore do Rio (Ack), Moby sorriu e falou que gostava muito do Hüsker Dü (eu também!). Antes de me despedir, completei o mico tirando uma foto com ele. No final do século passado, selfies eram chamadas de fotos. Simples assim.
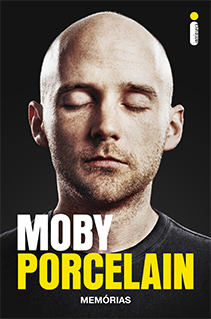 Mas tive a impressão de que só ficamos realmente próximos 16 anos depois, quando atravessei, suavemente, as 400 e tantas páginas de Porcelain. A partir do doce balanço de “Love Hangover”, de Diana Ross, música-chave de suas agridoces memórias, acompanhei Moby numa turbulenta e ainda assim divertida jornada no tempo, de volta à Nova York dos anos 1990, nos primórdios da dance music nos Estados Unidos, quando o êxtase das raves (“Uma grande festa de drogas”, diz alguém no livro) e dos chamados club kids estava prestes a ser confrontado pela repressão do prefeito Rudy Giuliani (que comandou a cidade entre 1994 e 2001), com sua política de tolerância zero.
Mas tive a impressão de que só ficamos realmente próximos 16 anos depois, quando atravessei, suavemente, as 400 e tantas páginas de Porcelain. A partir do doce balanço de “Love Hangover”, de Diana Ross, música-chave de suas agridoces memórias, acompanhei Moby numa turbulenta e ainda assim divertida jornada no tempo, de volta à Nova York dos anos 1990, nos primórdios da dance music nos Estados Unidos, quando o êxtase das raves (“Uma grande festa de drogas”, diz alguém no livro) e dos chamados club kids estava prestes a ser confrontado pela repressão do prefeito Rudy Giuliani (que comandou a cidade entre 1994 e 2001), com sua política de tolerância zero.
Através do seu relato — sereno, irônico, sarcástico, autodepreciativo e extremamente honesto —, senti a dureza e o cheiro de espírito juvenil, misturado com mofo, de seus tempos morando numa fábrica abandonada em Connecticut. Vibrei com suas primeiras performances como DJ, mas também sofri quando esbarrou na agulha e estragou um improviso do rapper Darryl McDaniels, do Run DMC, numa noite no Mars, clube onde era residente. Curti seu fortuito encontro com Madonna, numa noite de pista vazia, e tive a mesma melancolia quando viu um dos únicos presentes, o próprio O. J. Simpson (antes do crime), virar as costas e ir embora. Por empatia, quase enjoei com suas constantes bebedeiras e flertes com alteradores de consciência.
Presenciei outros encontros — como aquele com o DJ brasileiro Carlos Soul Slinger, pioneiro do som jungle em NY —, testemunhei suas primeiras gravações e seu primeiro contrato com uma gravadora. Acompanhei sua inquietação após o sucesso de “Go”, as tretas com Aphex Twin durante uma turnê e as primeiras viagens à Europa. Fiquei por dentro de sua crise de identidade na época de Animal Rights e também achei surreal o recado deixado por Axl Rose na sua secretária eletrônica, dizendo que tinha amado o disco e que costumava ouvir “Alone”, enquanto dirigia pelas ruas de Los Angeles de madrugada.
Quando virei a última página de Porcelain, concluído justamente após o sucesso de Play, em 1999, tive vontade de agradecer a companhia do meu amigo imaginário, vegetariano convicto, cristão autônomo, ambientalista dedicado, defensor dos direitos dos animais e improvável astro do rock. E fui lá reler aquele nosso primeiro papo, publicado no jornal O Globo (por fax, comentei isso?). No fim da entrevista, sorri com a sintética previsão que Moby, hoje com 50 anos, morando, sossegado, em Los Angeles, fazia sobre o próprio futuro:
— Usar uma peruca.
>> Leia um trecho de Porcelain
>> Ouça a playlist de Porcelain feita por Moby
Carlos Albuquerque é um dos mais renomados jornalistas de música e cultura do país. Trabalhou por mais de 25 anos no jornal O Globo, onde coordenou a cultuada seção “Rio Fanzine”, ao lado de Tom Leão, e editou a coluna “Transcultura” (com Bruno Natal, Alice Sant’Anna, Fabiano Moreira e Carol Luck). Revelou nomes como Ed Motta, O Rappa e Skank. Participou da cobertura de festivais como Tribal Gathering (Inglaterra), Hollywood Rock, Lollapalooza, Rock in Rio (a partir da segunda edição), Sónar Barcelona e eventos como a Red Bull Music Academy, em Tóquio. Entrevistou centenas de artistas, entre eles Paul McCartney, Mick Jagger, Eric Clapton e Kate Bush, além de personalidades, como o ex-vice presidente americano Al Gore. É autor do livro O eterno verão do reggae (Editora 34) e coautor de Rio Fanzine – 18 anos de cultura alternativa (Editora Record).



 Passado o momento de hesitação, confirmei que o livro era de fato muito interessante.
Passado o momento de hesitação, confirmei que o livro era de fato muito interessante. 



















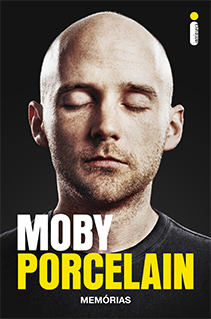 Mas tive a impressão de que só ficamos realmente próximos 16 anos depois, quando atravessei, suavemente, as 400 e tantas páginas de
Mas tive a impressão de que só ficamos realmente próximos 16 anos depois, quando atravessei, suavemente, as 400 e tantas páginas de 

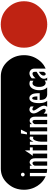
Siga-nos