Yasmin Santos é a convidada desta semana do Quintas pretas, projeto da Intrínseca que abre espaço semanalmente para pessoas negras pautarem conversas sobre temas fundamentais para a nossa construção como sociedade.
Por Yasmin Santos
Minha família, como a de muitos de nós, não é muito afeita à leitura. Estante de livros na casa da minha avó era aquela que guardava as enciclopédias, item essencial para a educação pré-internet. Não havia ali livros infantis, romances ou poemas com que crianças e adultos pudessem se entreter. No dia a dia, livros tinham tanto sentido quanto a fórmula de Bhaskara.
Do cochicho na cozinha, passando pela brigaiada na sala de estar, a cerveja no quintal e a fofoca em frente ao portão, o que não faltava na casa de minha avó eram histórias. Era de fato gente muito conversadeira. Como diz Conceição Evaristo, posso não ter nascido rodeada de livros, mas nasci rodeada de palavras.
Inicio este texto trazendo a minha experiência pessoal para inverter a lógica que acaba aproximando apenas pessoas brancas do ofício da escrita. Assim como a literatura de Conceição nasce da grafia-desenho de sua mãe, uma lavadeira que desenhava sóis na areia pedindo aos céus que levassem a chuva embora, o interesse pela escrita ou pela leitura pode nascer em pequenos gestos, mas principalmente na palavra. Escrita, falada, cantada, ouvida, sentida.
Às vezes, como Carolina Maria de Jesus, nasce na escola, pelo incentivo de uma professora. Os estudos param, a vida segue, catam-se papéis, descobrem-se livros no lixo. Em cadernos surrados, surgem poesias, diários, romances, contos, canções. A gramática sisuda se torna fluida. O medo de escrever errado dá lugar ao senso estético. A poética parece, por vezes, tão natural que atribuem a ela um golpe de sorte. Esperta que só, Carolina devolve: Eu tenho é audácia!
Contudo, ainda são poucas as pessoas negras que conseguem ver sentido em investir tempo e energia num ofício desses, até porque há muito pouco o mercado não se interessava por nossas histórias. Nunca deixamos de falar. De fato, a oralidade é um elemento sagrado para a manutenção da ancestralidade. Senta-se aos pés dos mais velhos para ouvi-los, receber conselhos, aprender as histórias e os saberes que serão passados de geração em geração. É pela partilha da palavra, da cultura, do território, que africanos escravizados construíram tradições neste país, resistindo ao genocídio imposto pela colonização portuguesa.
Mas a escrita e todo trabalho intelectual eram vistos, de forma geral, como coisa de branco. Tivemos, sim, brilhantes exceções como Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lima Barreto. Mas preto com livro na mão não era coisa boa – aliás, foi assim que Carolina, ainda menina, foi parar atrás das grades de sua cidade natal, Sacramento, no interior de Minas Gerais; a vizinhança especulava que uma mulher preta com um livro na mão só podia ser feitiçaria.
Afeito a binarismos, o Ocidente rejeita complexidades. Tudo funciona numa relação dicotômica de supostos contrários: razão/emoção, mente/corpo, branco/preto, homem/mulher. Nesse sentido, as primeiras características são atribuídas a sujeitos verdadeiramente humanos, enquanto as segundas, a objetos, seres desumanizados, animalizados. Trazendo as raízes do racismo científico, podemos observar como os corpos de pessoas negras eram constantemente associados a anomalias, relegados ao lugar do Outro. Escravizados, negros eram reduzidos a somente o próprio corpo, visto então como uma máquina (re)produtiva. Os atributos físicos, publicamente repugnados, são hipersexualizados. Nasce o estereótipo do homem negro com seu falo extravagante e da mulher negra fogosa, seres insaciáveis sexualmente, animalescos. As mentes negras eram, assim, incapazes de pensar, criar, imaginar.
Ainda que inconscientemente, é todo esse contexto que continua a afastar milhares de talentos negros da escrita. Mesmo com a conquista de um diploma – hoje um pouco mais democrática graças às ações afirmativas –, nos faltam contatos, referências, a aparência dita profissional; sempre há um novo entrave para nos convencer de que o nosso lugar é longe do pensamento, da intelectualidade; de que livro de preto não vende porque preto não lê.
Os rankings dos livros mais vendidos no Brasil, no entanto, mostram o contrário. Livro de preto não só vende, como faz sucesso até entre os brancos. Na Flip 2019, edição pré-pandemia da festa literária, dos cinco livros mais vendidos, quatro eram de autores negros (a portuguesa Grada Kilomba, a nigeriana Ayobami Adebayo, o angolano Kalaf Epalanga e o burundinês Gaël Faye) e um era de um escritor indígena (o brasileiro Ailton Krenak). Em 2021, Torto arado, de Itamar Vieira Junior, foi alçado a fenômeno literário e ultrapassou as centenas de milhares de cópias vendidas em poucos meses. O romance trata de populações quilombolas no sertão baiano. Nos últimos anos, Djamila Ribeiro e sua coleção de livros intitulada Feminismos Plurais ajudaram a popularizar conceitos antes restritos a ativistas e à academia, como lugar de fala, racismo estrutural, apropriação cultural e empoderamento. E é crescente também o número de traduções de livros de jovens autores negros em diáspora, como a premiada Brit Bennett.
Claro que nossos passos vêm de longe, passam pela ironia fina de Machado de Assis, o tom mordaz de Lima Barreto, a audácia de Carolina Maria de Jesus, a poética de Ruth Guimarães, a sensibilidade de Ana Maria Gonçalves, como também pela criatividade de muitos que não escreveram sequer uma única palavra.
Um levantamento feito pela pesquisadora Fernanda Miranda mostra que a publicação de romances de autoras negras aumentou sobretudo nas últimas duas décadas. De 1859 a 2006, apenas onze romances assinados por mulheres negras brasileiras foram lançados no Brasil. De 2006 até meados de 2019, já eram dezessete.
As grandes editoras demoraram para entender a força e a inventividade contida na escrevivência dos nossos. As editoras independentes tomaram a dianteira nas publicações, e os movimentos negros lutaram para manter a voz dos nossos ressoando entre nós, nos curando, nos inspirando.
Quando sento para ler um livro de Conceição Evaristo, sento aos seus pés, ouvindo suas impressões e suas histórias, mergulho em seus saberes e ensinamentos, leio os seus livros sempre em voz alta, reparo na sonoridade das palavras que, em seus escritos, carregam a força da oralidade. Suas narrativas são provocativas e acolhedoras, familiares. Tive a mesma sensação lendo um conto de Itamar Vieira Junior em que vi, pela primeira vez, muitas das tradições da minha avó registradas em papel. O enterrar dos umbigos, a saudação à lua, o sagrado das ervas. Tudo aquilo que aprendi na escola que era menor, irracional, crendice. As palavras escritas, negadas a tantos de nós, também hoje são nosso lugar de partilha, nosso cordão umbilical, nossa resistência, nossa forma de honrar a ancestralidade, nosso projeto afrofuturista.
O público tem sede, reivindica novas histórias, novos olhares e perspectivas, mais complexidades e menos estereótipos, quer se sentir representado, rejeita o lugar da subalternidade. Não apostar nisso é burrice intelectual e mercadológica. É preciso ter mais criadores negros, não só como funcionários, mas tomando as rédeas da situação, com o poder da caneta. Precisamos de mais autores negros, assim como mais editores, ilustradores, comunicadores negros. Da ponta até o topo da cadeia produtiva.
Não queremos só esse ou aquele negro, queremos proporcionalidade. Para isso, além de ações que visem à inserção de novos profissionais negros em cargos baixos, as empresas precisam encarar o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo interno e da própria sociedade. É preciso compreender que empresas também têm responsabilidade social e, para exercê-la, devem estabelecer estratégias que possam proteger profissionais de grupos minorizados de possíveis comportamentos discriminatórios, além de estabelecer metas factíveis de diversidade, implementando projetos que busquem acelerar a carreira de profissionais negros. É preciso começar a (re)imaginar ambientes em que pessoas negras possam não só entrar, mas ficar. Taí a literatura, a arte, a cultura. Caminhamos muito até aqui e tudo o que temos hoje é fruto da luta dos nossos ancestrais. Mas o público tem muita sede, e o que não falta no Brasil é água – falta é querer distribuir.
Yasmin Santos é bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2019) e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC-RS. Como jornalista, já teve textos publicados nas revistas Piauí, Quatro Cinco Um, Trip e no Nexo Jornal, além de ter integrado a bancada do programa Roda Viva, da TV Cultura, diversas vezes. Em 2021, seu ensaio intitulado “Ladainha da sobrevivência” recebeu menção honrosa no 4º Concurso de Ensaísmo da Serrote, revista do Instituto Moreira Salles. No mesmo ano, também foi homenageada pela Câmara Municipal de Salvador com o Prêmio Maria Felipa, destinado a profissionais que atuam no fortalecimento de políticas públicas para mulheres. Escreve principalmente sobre diversidade e inclusão no jornalismo, questões raciais, feminismo e direitos humanos.







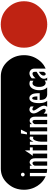
Siga-nos