Havia muito a eleição no recife não era tão disputada. O tubarão-branco tentava o quinto mandato consecutivo, ainda que a reeleição não fosse aceita pela Constituição vigente no fundo do mar. O problema é que nenhum outro peixe jamais tivera coragem de levantar a inconstitucionalidade do ato, muito menos desafiar o tubarão nas urnas, notadamente por conta de seus 3 mil dentes e da forma truculenta com que costumava conduzir os pleitos, devorando qualquer um que ousasse pensar em registrar candidatura. Mas os tempos eram outros, e o tubarão, envelhecido e só com metade da arcada dentária, convencido pelos analistas políticos de que a abertura democrática era necessária, já não metia tanto medo. A eleição seria decidida mesmo era no voto.
As pesquisas traziam números disputados cabeça a cabeça, método que automaticamente excluía os bacalhaus da amostra, mas ainda assim dentro da margem de erro. Na semana da eleição, o quadro era de empate técnico entre as três candidaturas majoritárias: 1) a do partido governista, conservador, apoiada no lado abissal direito do recife, encabeçada pelo próprio tubarão-branco e cujo vice era o tubarão-cabeça-chata, em escolha estratégica para angariar votos de peixes do nordeste do recife; 2) a do partido comunista, enraizada na extrema esquerda radical do paredão, liderada pela sardinha e tendo como vice outra sardinha, o que em geral confundia os eleitores sobre quem realmente era o cabeça da chapa; e 3) a do partido socialdemocrata, que se reunia em cima do muro de corais e era comandada pela ostra, tendo como vice o golfinho. Essa chapa estranha tinha potencial de angariar votos de peixes e não peixes, ao atirar a rede para tudo quanto era lado.
Registre-se aqui que a quarta candidatura, a do partido verde-musgo, minoritário, havia morrido no nascedouro por equívoco brutal de estratégia política, que veio a se confirmar tarde demais, após a impressão de milhares de santinhos sem noção, com o slogan “Queremos Robalo”, e a perda de apoio quase instantânea por parte dos correligionários, que nadaram para outras candidaturas.
As campanhas estavam nas ruas, ou melhor, nas correntes. Os comícios foram organizados em datas diferentes, para que todos pudessem comparecer, considerando que o que a turma mais queria era acompanhar os shows que cada legenda havia contratado. O partido comunista, mais modesto em seus recursos, apresentou um grupo de pagode formada por manjubinhas, que entrou após o discurso de quinze segundos da sardinha, sempre pressionada de todos os lados a falar pouco. Logo no início do show o quebra-pau foi instalado, por conta de uma falha no repertório, que trazia o clássico “Assassinaram o camarão”, sambão que revoltou os camarões, que avançaram sobre o palanque e retiraram o apoio ao candidato por incitação ao crime. O partido socialdemocrata ficou na dúvida sobre quem contratar e, para não desagradar a ninguém, convidou uma banda de rock pesado e outra de bossa nova. Tal estratégia se mostrou pouco inteligente, porque a turma formada pelos adoradores do metal, composta por tubarões-lixo, moreias e ouriços, não se conformou em ter de assistir a um lambari cantando “O barquinho” e o recebeu sob uma chuva de conchas. Em tempo, diante da confusão, a ostra preferiu não se abrir para o público, declinando do discurso. Já o partido conservador, utilizando-se de recursos da máquina pública, optou por algo também conservador e contratou um coral. A adesão foi baixa nesse comício, mas a presença intimidante do tubarão-branco e seus asseclas tubarões-martelo foi motivo suficiente para que todos aplaudissem efusivamente seu discurso interminável de quatro horas.
O certame foi conturbado, com os três candidatos sofrendo extorsão por parte das traíras, que, organizadas num cardume silencioso e muito eficiente, montaram dossiês e só fecharam a guelra após negociatas que resultaram em promessas de cargos no segundo escalão do futuro governo — seja quem fosse eleito. Desde a “afundação” do recife, as traíras sempre estiveram no poder, atuando de forma baixa por debaixo dos oceanos. Nenhum dos candidatos afirmou aceitar os dossiês após acordo de fazerem uma campanha em águas limpas, apenas no mar das ideias, e recusando-se terminantemente a descer o pleito a níveis abissais.
Missões estrangeiras foram convidadas como observadoras, para garantir a lisura e dar credibilidade ao processo. Chegaram, a uma semana da eleição, peixes de água doce vindos via pororoca: tambaquis, piramutabas, pirarucus, pacus, um boto-cor-de-rosa — representante das minorias piscianas sexualmente reprimidas —, um peixe-boi — representante dos pecuaristas — e mais um monte de cardumes organizados, interessados apenas em fazer turismo em outras águas.
A bandeira de campanha da sardinha comunista era transformar o recife numa simbiose, com todo mundo trabalhando em prol do coletivo. Sua base de apoio era o Movimento dos Sem Movimento (MSM), composto por esponjas e anêmonas, que ameaçavam invadir todos os “latifundos” improdutivos do mar se não recebessem generosos pedaços de recife nos quais pudessem se instalar. Tal bravata não metia medo em ninguém, justamente por sua própria natureza imóvel e pelo fato de todo mundo saber que aquilo era pura retórica.
Já o programa da ostra era privatizar qualquer coisa que aparecesse na frente, vender e fazer caixa. A candidatura estava inflada de recursos de caixa dois oriundos de empresas de petróleo interessadas na privatização dos serviços de exploração, e a intimidade da ostra com uma gigante petrolífera estava na cara. Mas ela negava peremptoriamente.
Por fim, o tubarão-branco acenava com ampliações das instituições, o que abriria novas vagas na mamata do serviço público. Porém, todos sabiam, à guelra pequena, que só quem tinha escama quente e peixada forte conseguia. Todos os setenta tubarões-brancos da família estavam alocados em posições estratégicas, sem o mínimo constrangimento. O Ministério da Pesca, por exemplo, estava a cargo da mãe do tubarão-branco. Um escândalo, considerando que jamais um tubarão-branco fora pescado e isso denotava que a velha, apesar de enorme, era peixe-pequeno no assunto.
A dois dias do dia D, um debate com transmissão para todo o recife aconteceu dentro de um navio naufragado na Segunda Guerra. Os candidatos chegaram ao convés com seus séquitos de puxa-sacos e assessores: o tubarão-branco e suas rêmoras; a sardinha com mais quatro sardinhas de cada lado; e a ostra apoiada no casco de um cágado. As focas da imprensa entrevistavam cada um deles:
— Vou engolir as outras duas candidaturas — afirmou o tubarão-branco.
— Estou acostumada a sofrer pressão de todos os lados — filosofou a sardinha.
— Quero expor meu interior aos eleitores — proferiu a ostra, soltando uma pérola.
A mediação ficou a cargo da garoupa, que, após ter sua foto estampada na nota de 100, largou a humildade de lado e virou uma estrela-do-mar. Passou a exigir cachês exorbitantes para aparecer e dava o mar da graça apenas em eventos da alta sociedade ou daquela “margnitude”. As regras foram combinadas pelas assessorias dos três candidatos, com pedido expresso para que o tubarão-branco não atacasse a honra pessoal nem o próprio pessoal, sob pena de expulsão do plenário, além da concessão de uma hora de direito de resposta a quem sobrevivesse ao ataque. Cada candidato poderia fazer perguntas aos oponentes, e a livre intervenção por parte da plateia era estimulada. As galerias estavam cheias até a borda das mais diversas espécies de animais marinhos. Do lado de fora do navio, os barbados e os tubarões-bigode, capitaneados pela lula, organizaram uma manifestação contra a “ditadura da elite cinza”, em referência aos tubarões, e pregando o voto em branco. O problema foi a confusão gerada na cabeça dos poucos presentes, que não entenderam nada e acharam que o voto em branco significava votar no tubarão-branco, subvertendo toda a lógica do protesto.
O início do debate foi tranquilo, com a exposição dos programas de governo e as naturais trocas de amabilidades, característica desse tipo de confronto. Um marasmo! O que se viu foi um infindável abrir e fechar de guelras por parte da plateia. Os baixíssimos índices levantados pelos programas instantâneos de medição de audiência indicavam que, daquele jeito, o debate daria com os burros n’água, o que poderia desagradar a quem realmente interessava: os patrocinadores. No primeiro intervalo comercial, o peixe-piloto, editor-chefe da emissora organizadora do confronto, foi até a garoupa e ordenou que botasse fogo no debate. A garoupa era famosa, mas pouco inteligente:
— Como vou botar fogo dentro d’água? — perguntou, o que lhe valeu um olhar de peixe morto por parte do peixe-piloto, que não respondeu.
Na volta, a garoupa abriu para as perguntas da plateia. O ouriço pediu a palavra e trouxe à tona um tema espinhoso: a lavagem de dinheiro. Fez um inflamado e breve discurso sobre o tema, sem nenhum nexo naquele contexto, porque não se conhecia, ao menos no fundo do mar, dinheiro que não fosse lavado. Sua pergunta foi cancelada por falta de oportunidade e conveniência.
— É um cabeça-de-bagre mesmo — cochichou o tubarão para a ostra.
— Parece que tomou umas e ostras — devolveu a ostra, no trocadilho mais infame da história das eleições.
Palavra dada à sardinha, que atacou a ostra:
— Trago aqui denúncia gravíssima, feita pela revista Caros Anfíbios, que afirma ser o senhor o verdadeiro dono de um restaurante japonês que arranjou um laranja, o peixe-palhaço, para tocar o negócio. O que o senhor tem a dizer?
O recife tinha alguns restaurantes japoneses clandestinos, estabelecimento proibido pela legislação contrária ao canibalismo via sashimi. A denúncia automaticamente tornava inadmissível que salmões, atuns e cogumelos-do-mar votassem na ostra.
— Calúnia! O peixe-palhaço a que o senhor se refere é apenas um amigo meu, animador de festas infantis. Nego peremptoriamente, porque nunca gostei dos japoneses.
Foi uma afirmação necessária para se safar, mas que também colocava por terra o outrora apoio maciço dos peixes ornamentais à candidatura da ostra.
— Só sendo muito mole para votar nesse aí — comentou a água-viva.
— Está insinuando o quê? — atacou o molusco, virando-se para a água-viva, que se fez de morta.
A ostra contra-atacou a sardinha, gritando:
— E você e o namorado, que foram vistos jantando juntos? Como é que fica?
— Nossa, adorei isso — comentou o boto-cor-de-rosa, que, a propósito, era do signo de aquário.
— Namorado? Eu sou espada — retrucou a sardinha, indignada.
— Espada? Você é uma sardinha — vociferou novamente a ostra, atacando diretamente o candidato, com aplausos efusivos do peixe-espada, que gritou: “Sardinha é a mãe!”
— Exijo direito de resposta — gritou a sardinha, que sabia da péssima reputação do namorado, que vivia dizendo que “caiu na rede é peixe”.
— Bonito, hein, sardinha? — gritou um mexilhão que estava nas galerias.
— Me inclua fora dessa! Quero que a sardinha se afogue! — indignou-se o bonito, anticomunista declarado, sentado próximo ao mexilhão e já pronto a meter uma moqueca em sua cara. Os outros presentes tiveram que intervir para conter os ânimos exaltados.
— Aí tem truta — gritou o leão-marinho.
— Truta, o cacete! Vou dar uma piaba na sua orelha — respondeu a truta, após ser incluída nas denúncias e esquecendo que leão-marinho não tem orelha.
— E o que tenho a ver com isso? — quis saber a piaba.
— Estou cansado de viver nessa lama — esbravejou o caranguejo, desiludido, falando com propriedade.
— Falou bonito — aplaudiu o bonito.
— Quero ver ele se safar dessa. Tremendo pepino – comentou a arraia, que era o peixe mais chato do oceano e nunca concordava com nada.
— Hein? — perguntou o pepino-do-mar, que não estava prestando atenção.
— Isso aqui está uma surubada — gritou o beta azul, o peixe mais invocado do recife, sem medo nenhum de que a turma do surubim fizesse pincel dele.
— Silêncio nas galerias! — exclamou a garoupa, perdendo a compostura e tentando subir o nível, atitude reprovada com outro olhar de peixe-morto do peixe-piloto, ciente de que aquele sururu era ótimo para o crescimento do ibope. Mas a garoupa botou fogo, conforme as orientações:
— Direito de resposta dado à sardinha. O que o senhor me diz sobre aquela história do namorado?
— Não tenho nada a dizer sobre isso. Mas tenho aqui fotos que mostram a ostra tirando uma casquinha do siri.
Nesse momento, o siri saiu de lado, para não se comprometer com as fotos tiradas pelas traíras.
Uma imagem vale mais do que mil palavras, e se podia afirmar que a candidatura da ostra naufragaria.
— Hahaha. É como sempre digo: pimenta no pacu dos outros é refresco — era o tubarão-branco, em frase de efeito que provocou silêncio constrangedor nas galerias, ao menos por parte dos pacus, que ainda tiveram de aguentar risinhos maledicentes dos baiacus, dos pirarucus e dos tambacus, que não foram citados por mero detalhe de escolha de prefixo.
O tubarão continuou, baixando o nível de vez:
— Ostra, você não tem envergadura moral para comandar o recife. Sabemos que o candidato é casado com outra ostra e, além dessa agora do siri, tem sido visto constantemente com uma lampreia. Como o senhor explica isso?
A ostra, sabendo que pior do que ser taxado de infiel é ser taxado de sem noção, já que a lampreia era uma verdadeira mocreia, contra-atacou na mesma moeda, mudando o foco das atenções para o tubarão-branco:
— O sujo falando do mal lavado.
— Não sei o que o candidato está insinuando. Sou muito bem casado com uma orca. Mesmo ela sendo uma baleia, não fico por aí nadando de braçada com raparigas.
— Então, como o candidato explica estas fotos? O senhor se reconhece aqui? — era a ostra, chutando o balde e mostrando para as câmeras fotos comprometedoras, obtidas pelas traíras, do tubarão-branco de barbatanas dadas com uma piranha e uma piraputanga. A imagem já valia mais do que um milhão de palavras.
— Ooooohhhhhhhh!!!! — espantaram-se os presentes.
O ibope estava nas alturas.
— Sou branco-gelo! Essa foto é de um tubarão branco-neve — gritou, com a mandíbula proeminente e mostrando quase todos os 1500 dentes que restavam, na desculpa considerada a mais esfarrapada da história do recife, entrando para os anais do folclore político desde então. Tamanha cara de pau foi um choque até para a enguia.
— Já sabendo da possibilidade dessa desculpa fraca, consultei previamente um especialista, o pinguim, e tenho aqui um relatório que prova que branco-gelo e branco-neve é tudo a mesma coisa. Era o senhor, sim. Como explica? — indagou a ostra, encurralando o tubarão, que sabia que teria de dar explicações à baleia assassina quando chegasse em casa.
— Acaba com ele, Ostra! – gritou e aplaudiu o vermelho, comunista desde alevino.
Foi nesse momento limite que o tubarão, sentindo-se acuado, afogado num mar de lama capaz de destruir o pouco que ainda restava de sua péssima reputação, de saco cheio de bancar o bonzinho, já sem qualquer paciência para mais palavrório e presepada, e sentindo, enfim, que a coisa tinha ido por água abaixo, partiu para a truculência: saiu devorando tudo o que tinha à frente, porque aquele negócio de democracia já tinha enchido o saco.
Devorou a sardinha e a garoupa. Comeu o namorado. Descascou a tartaruga. Destroçou a ostra. Aniquilou os siris, os caranguejos e o ouriço. Assassinou o camarão. Enlatou oito sardinhas. Cagou no cágado. Deu um cascudo no pintado. Estrunchou o molusco e palitou os 300 molares com a lagosta. Não poupou nem o filhote. Avançou sobre as galerias e trucidou os pacus, os baiacus, os pirarucus, os tambacus e todos os outros peixes, fossem eles terminados neste ou naquele sufixo. Venceu por aclamação das rêmoras, as únicas poupadas da chacina.
E voltou para seu gabinete, autoconcedendo-se mandato vitalício.
Nos braços do polvo.













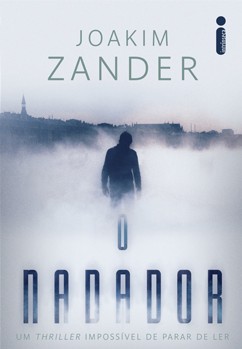


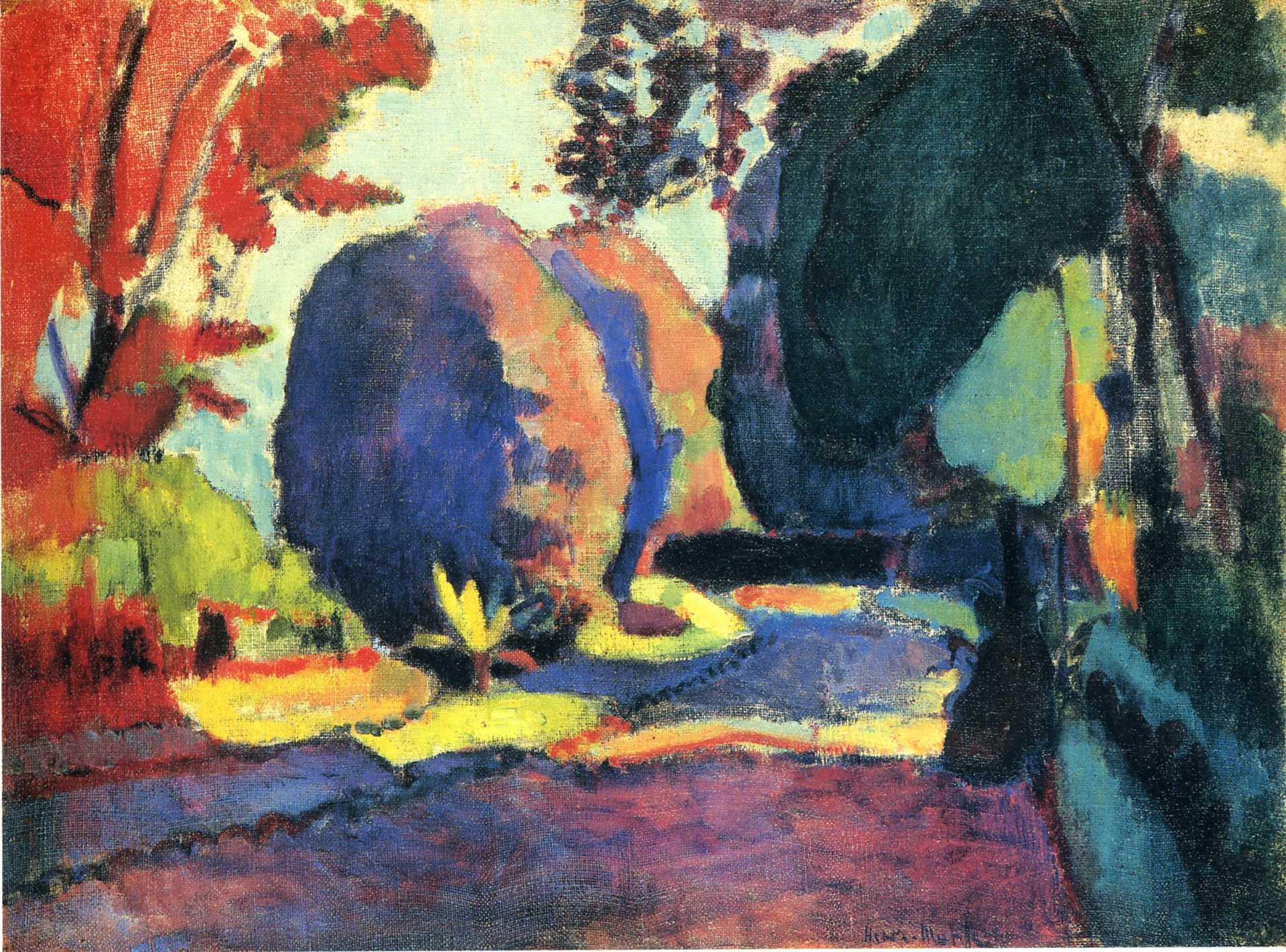

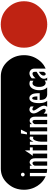
Siga-nos