Por Gabriel Trigueiro*
Argumentar que sem a diáspora africana não haveria a música popular e tampouco a cultura como a conhecemos é, de alguma forma, ficar no lugar comum, pois o argumento logo soa como uma tautologia. Por outro lado, no entanto, não é uma mentira, muito longe disso. Pensando aqui, bem rapidão, nos EUA não haveria blues, jazz, funk, soul, R&B, rock, rap, house, trap, nada disso, não fossem os negros. Aqui no Brasil não haveria o choro, o samba, o funk, a nossa identidade nacional, enfim, se não fosse a gramática própria criada pelo povo preto. Com essa playlist tentei elaborar uma apresentação panorâmica de alguns dos momentos mais bonitos, aquilo que uma vez Vladimir Nabokov chamou de “an aesthetic bliss” (uma benção estética), criados por essa sensibilidade informada pela experiência negra.
A dança da água, o romance de estreia do escritor norte-americano Ta-Nehisi Coates, de alguma forma trata das implicações culturais, e mesmo políticas, desse traço diaspórico da cultura africana. Coates pega uma ideia poderosa desenvolvida em um ensaio de Toni Morrison: a de que as culturas de matriz africana se baseiam, se fundamentam de fato, na ideia de memória e liberdade e, a partir daí, desenvolve uma bela narrativa. Ou melhor, e trocando em miúdos, a ideia central do romance é a definição da memória como uma fonte de liberdade interior. Não por acaso há toda uma tradição de música popular de origem negra que se estrutura a partir do caráter oralizado da cultura africana — algo que fica evidente no storytelling do blues, do samba e até de um gênero historicamente recente como o rap, por exemplo.
A primeira faixa, um cínico poderia observar, tem algo de óbvio, mas não menos de incontornável. Jorge Ben Jor disputa com João Gilberto o título de grande revolucionário e criador na nossa música popular. Ambos começaram a cantar e tocar sambas, mas com suas interpretações próprias, com um twist particular, original e inconfundível: do ponto de vista do canto, do ponto de vista da técnica de tocar violão — no caso de Ben Jor, uma técnica percussiva e totalmente inédita.
Se o livro de Ta-Nehisi Coates é sobre memória e ancestralidade, e sobretudo sobre as potencialidades do indivíduo, acho que cabe contar aqui um episódio da minha trajetória de vida — é algo breve, mas é, sem dúvida, uma “experiência formativa”, para falar pomposamente e por assim dizer. Uma das minhas lembranças mais antigas, ainda de criança, é a de escutar o meu pai falar sobre o impacto estético, cultural e político que Jorge Ben teve em sua própria formação. Lembro dele falando: para uma criança preta e sem recursos assistir àquele sujeito, maior que a vida, tocando aquelas coisas lindas, produzindo tanta beleza e tantos encantos, era quase como se fosse um portal para outra existência. Era a promessa de que, mesmo sendo um menino pobre, mesmo sendo um menino negro, agora o céu era o limite, porque havia Jorge Ben. Sempre compreendi racionalmente essa história, mas acho que só a entendi emocionalmente (isto é, do jeito certo) quando conheci, décadas depois, o rapper Kanye West. O impacto simbólico produzido pela arte de um homem negro, ou de uma mulher negra, em toda a comunidade negra é algo completamente não mensurável, não quantificável: jamais pode ser subestimado.
Ainda sobre Ben, convém sempre lembrar que assim que surgiu com seu disco Samba Esquema Novo, de 1963, Ben foi considerado excessivamente heterodoxo pela turma do samba e acabou sendo acolhido pelo povo do jazz, do Beco das Garrafas, em Copacabana. Basta pensar na participação do grupo de samba-jazz Meirelles e os Copa 5, em seus primeiros discos. Na faixa “Negro é lindo”, do disco homônimo e seu oitavo LP, estamos diante de uma canção perfeita, do ponto de vista temático e formal. Jorge Ben Jor canta: “Preto velho tem tanta canjira / Que todo o povo de Angola / Que todo o povo de Angola / Mandou preto velho chamar / Eu quero ver preto velho descer /Quero ver preto velho cantar e dizer”. A produção de Paulinho Tapajós, os arranjos do maestro Arthur Verocai e o acompanhamento ilustre do Trio Mocotó completam a beleza radiante do troço.
Como Jorge Ben já disse uma vez: “Quando eu inventei essa batida, chamava de sacundin sacunden, depois, na época da Jovem Guarda, virou jovem samba e, mais tarde, sambalanço”. É daí que surge o gênero que apelidariam finalmente de samba-rock, no qual o compasso binário do samba (2/4) passaria a quaternário (4/4). Além disso, havia o uso de naipes de metais inspirado por gêneros importados como a soul music e o funk. O cantor Bebeto, que também integra essa playlist, sempre foi um dos expoentes do gênero — ainda que injustamente acusado de mero imitador de Ben, além de “o cantor das empregadas domésticas”. O primeiro argumento burro e o segundo, preconceituoso, classista. Aliás, também integra essa lista o Grupo Molejo, com “Samba rock do Molejão”, uma bela e divertidíssima revisitação do gênero.
Mas se há Grupo Molejo, também há Arlindo Cruz, egresso do Grupo Fundo de Quintal, ainda no início da década de noventa. O Fundo de Quintal, como é sabido, foi responsável por uma ampla renovação estética no samba — criaram, por exemplo, um instrumento como o banjo-cavaquinho (criação de Almir Guineto) e passaram a utilizar instrumentos incomuns até então no gênero: o banjo, o tantã e o repique de mão, por exemplo. Na outra ponta, temos a faixa “Yaô”, retirada do disco Gente da Antiga, uma das muitas pérolas da clássica gravadora Odeon — com Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana, alguns dos artífices dessa linguagem.
Nessa playlist coloquei Racionais Mcs com “Negro drama”, hino informal do rap brasileiro e interpretação sociológica sofisticada da experiência periférica em São Paulo. Também tem a versão de “Apache”, da Sugarhill Gang, e “New Slaves”, do Kanye West. Ainda no rap, “Um bom lugar” é uma canção clássica, importante por uma porção de coisas, mas, sobretudo, por ser fruto da parceria entre dois gigantes: Sabotage e Gustavo Black Alien.
As mulheres que integram a lista são facilmente algumas das maiores artistas da história da música popular: as irmãs Knowles (Beyoncé e Solange), Sister Nancy, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Alcione, Lia de Itamaracá, Lauryn Hill e Dona Ivone Lara, para citarmos apenas algumas. A playlist tem lá os seus momentos artsy, John Coltrane Quartet e Os Tincoãs por exemplo, mas o clímax mesmo é o Olodum, com “Vem, meu amor”, que ficou conhecida com a gravação da Ivete Sangalo, de 1998, na época na Banda Eva. No entanto, a canção foi escrita ainda em 1987, pelo ex-porteiro Silvio Almeida. Silvio na época estava desempregado e a apresentou em um concurso de sambas juninos, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Na época, como ele mesmo recorda: “Os blocos afro não falavam muito de amor. Falavam de outra forma, mas não assim de uma maneira tão romântica. Um grande parceiro, que não é dessa composição, Sandoval, me disse que a música dava para o Olodum. Ele levou a música para lançar e ela logo caiu nas graças de um dos vocalistas, Ermano Meneguel, que disse: ‘Eu quero essa música.’” Em 1992 a canção seria gravada pelo grupo e faria muito sucesso comercial.
Essa playlist é uma forma de, ao modo de Ta-Nehisi, refletir sobre a importância fundamental da experiência diaspórica africana para a formação da cultura popular mais sofisticada, complexa e interessante que há no mundo ocidental. Nela você vai encontrar jazz, samba, dancehall, pagode, samba-rock, rap e muito mais. Todos esses são gêneros formados por uma régua estética de memória, tradição, ancestralidade e oralidade — à moda da narrativa desenvolvida por Coates em A dança da água.
Como todas as listas, essa daí guarda algo de arbitrário e obviamente dedura os gostos pessoais, as preferências, os maneirismos, as cismas e as afetações de quem a criou. No entanto, eu acho, dá para afirmar também que ela consegue refletir, um bocadinho que seja, o grau de riqueza, inventividade e sofistação melódica, harmônica e temática daquilo que, por falta de expressão mais rigorosa, estou chamando aqui de música negra: espero que vocês gostem.
Ouça a playlist completa:
*Gabriel Trigueiro é doutor em História Comparada pela UFRJ, mas gostaria de ser rapper — e, se não fosse Jorge Ben Jor, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus e Moacir Santos, não seria ninguém











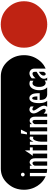
Siga-nos